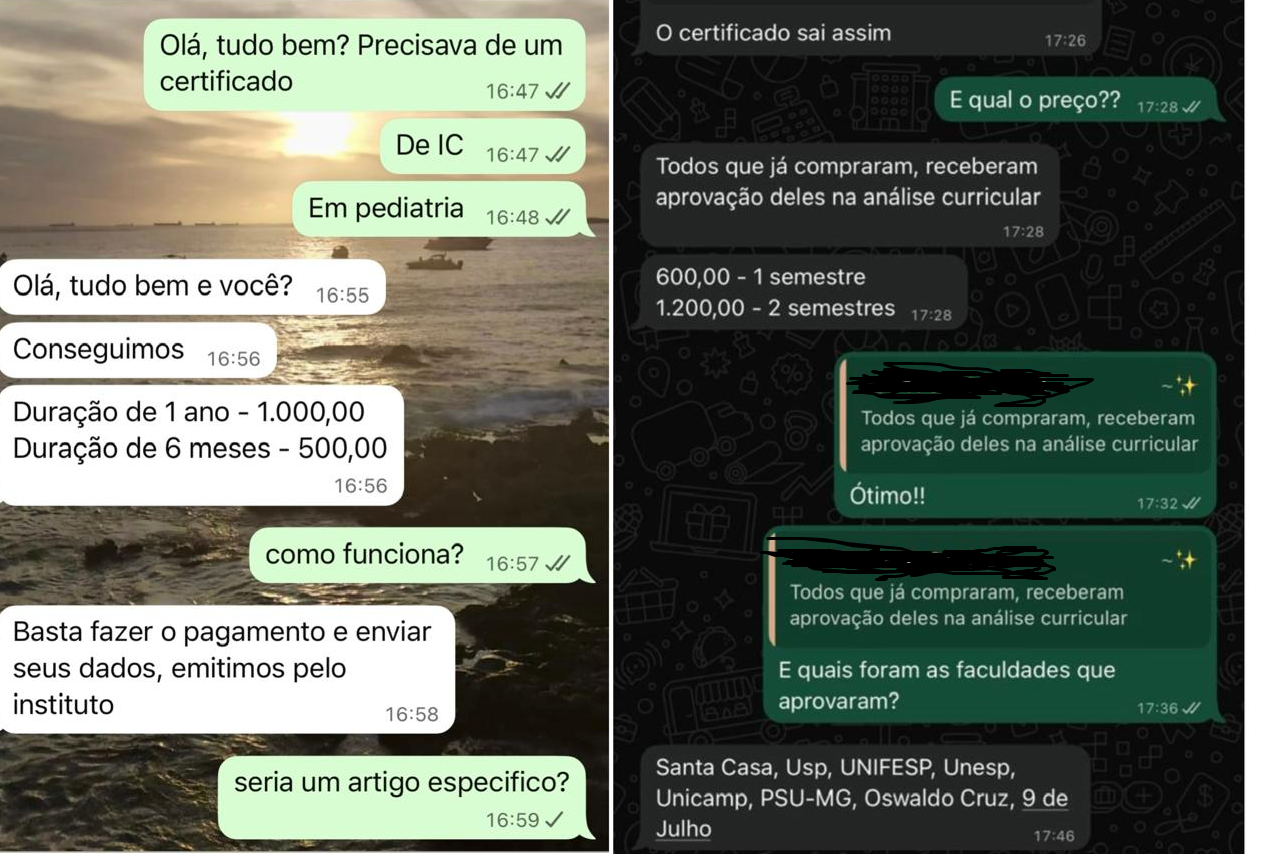Os sentidos da folia – Meio
Os significados da folia – Meio
Tempo é algo que se mensura de maneira distinta quando se pensa no Carnaval. Embora hoje seja oficialmente o primeiro dia de festividades e tudo chegará ao fim na quarta-feira, como recorda a famosa canção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, para aqueles que tecem os bastidores invisíveis que sustentam a maior celebração popular do Brasil, a ideia de que o Carnaval se resume a quatro dias é uma ficção burocrática. Uma ilusão conveniente para turistas e planilhas de prefeituras. Em 2026, ao tentar compreender “o que significa participar do Carnaval?”, a primeira resposta que surge das vozes que constroem a folia — desde o chão de terra batida da Zona da Mata pernambucana até os camarotes climatizados de Salvador — é uma recusa radical à transitoriedade.
“O Carnaval é uma forma de estar no mundo, não se restringe a esses dias”, define Alessandra Leão, cantora, compositora e pesquisadora que transita entre a música contemporânea e as tradições de Pernambuco. Para ela, e para os mestres com quem convive, o conceito de resistência já se desgastou, tornou-se insuficiente. O termo adequado, o verbo que se conjuga em 2026, é sobre-existência.
Essa sobre-existência é um compromisso em tempo integral. Em Nazaré da Mata, as golas bordadas dos caboclos de lança do Maracatu Rural começam a ser confeccionadas em abril, em um ciclo que desconsidera o ano letivo ou fiscal. “Ninguém participa do Carnaval sem se fundamentar espiritualmente. O maracatuzeiro passa por um período de resguardo, realiza seus assentamentos, seja na Jurema, seja no Candomblé”, explica Alessandra. A festividade é apenas a manifestação visível de uma energia acumulada silenciosamente, o local onde se busca forças para enfrentar o restante do ano.
No Rio de Janeiro, a escritora e pesquisadora Rachel Valença, coautora de Três poetas do samba-enredo: Compositores que fizeram história no carnaval, observa o mesmo fenômeno sob a perspectiva das escolas de samba. Ela questiona a lógica racional que levaria alguém a submeter seu próprio corpo ao limite sem uma recompensa financeira imediata. “O que leva um ritmista a tocar aquele surdo até que suas mãos sangrem? Ele não ganha nada, chega até a disputar uma vaga na bateria para passar por esse sofrimento”, diz Rachel. Para ela, trata-se de uma “obrigação interna”, uma força histórica superior que arrasta o indivíduo para as ruas, ignorando a repressão ou a permissividade de cada época.
Isabel Guillen, historiadora em Recife, professora da Universidade Federal de Pernambuco, complementa esse quadro ao recordar que a festa é um milagre econômico ao contrário. As agremiações são mantidas por pessoas das periferias, muitas vezes de baixa renda, que economizam o ano todo para adquirir a fantasia de rei, pirata ou jardineira. É um exercício de resiliência financeira e criativa que desafia a lógica da escassez.
Brincar em 2026, portanto, é, acima de tudo, um ato de preservação de um estilo de vida. Embora a pulsão interna permaneça inalterada, o contexto onde ela se manifesta — o Brasil urbano, polarizado e financeirizado — transformou o Carnaval em um espelho de fissuras expostas.
Cidades em competição
Nenhuma cidade brasileira personifica melhor as tensões do Carnaval de 2026 do que São Paulo. A metrópole, onde historicamente parte da população se orgulhava de ser o oposto do samba e o motor do trabalho, tornou-se o palco de uma disputa simbólica pelo ethos urbano.
Guilherme Varella, advogado e gestor cultural, autor de Direito à Folia, argumenta que o Carnaval disputa o comportamento subjetivo coletivo da cidade. São Paulo entra em colapso quando invadida pela lógica do ócio. “Nesse momento, São Paulo é a cidade que não produz, a cidade da alegria, do prazer”, diz Varella. Contudo, essa mudança não é bem recebida pela gestão pública atual. Segundo ele, a prefeitura enxerga a festa não como um ativo cultural a ser incentivado, mas como um “obstáculo urbano” e, pior, uma plataforma de demagogia securitária.
“Eles acreditam que o Carnaval é uma plataforma para demonstrar serviço na segurança pública, para fomentar um discurso de que é bagunça, é desordem”, analisa Varella. A festa torna-se o pretexto ideal para o aumento da presença policial e para abordagens inadequadas, sob a justificativa de “restaurar a ordem” em algo que, por natureza, é a suspensão da ordem cotidiana.
Salloma Salomão, historiador, músico e educador, eleva o nível da crítica sociológica. Para ele, o Carnaval é “um ato ordinário de liberdade e alegria em oposição à tendência de neopentecostalização e melancolia capitalista do Brasil”. Nesse panorama árido, onde, segundo Salomão, manifestações e protestos (como ele se refere aos blocos) foram reprimidos ou privatizados, à exceção da Marcha Para Jesus, o Carnaval permanece como a única atividade de rua que a população ainda celebra em massa. Porém, ele alerta: o que vemos hoje é uma comercialização radical, imposta pelo entretenimento em conluio com a gestão pública.
Essa comercialização não vem sem riscos. Tadeu Kaçula, sambista e sociólogo, descreve o ato de curtir o Carnaval em São Paulo hoje como uma aventura, mas não no sentido lúdico. “Tornou-se uma aventura arriscada, que coloca sua própria vida em perigo”, afirma. A superlotação, resultante de uma estratégia que expandiu o Carnaval para atrair mega blocos e marcas globais, criou um ambiente onde a infraestrutura urbana está à beira do colapso.
Varella ressalta que a agenda da cidade tornou-se esquizofrênica: liberal na economia, cedendo a festa aos patrocinadores, e conservadora nos costumes. Ele menciona o caso do golden shower no Carnaval de 2019 como um exemplo de radicalismo político corporal. O Carnaval, ao expor publicamente o que é privado, torna-se a manifestação política mais extrema possível, muito além de uma manifestação com faixas. E é justamente por isso que é tão reprimido e controlado.
Fronteira da Identidade
Se o asfalto é um campo de batalha, a identidade sonora, visual e racial da festa é outra fronteira. O que o Carnaval de 2026 revela sobre o Brasil? Para aqueles envolvidos na celebração, demonstra que há um processo de “branqueamento” em andamento, que vai além da cor da pele dos foliões, atingindo as raízes fundadoras da festa.
Tadeu Kaçula é incisivo ao resgatar a história de Dionísio Barbosa, fundador do Grupo Barra Funda em 1914, precursor do Carnaval paulistano. Kaçula descreve a geografia da segregação: o Carnaval negro teve início na Barra Funda e Higienópolis; quando a elite branca se incomodou, foi deslocado para a Avenida Tiradentes (próximo à Rota); e, por fim, exilado para o Anhembi, às margens do rio e da marginalidade geográfica. Hoje, ele enxerga a invasão da música eletrônica e do sertanejo nos blocos como a continuação desse processo. “É um flagrante apagamento das raízes do samba de São Paulo”, denuncia.
Bernardo Oliveira, crítico e pesquisador carioca, autor de Tom Zé: Estudando o Samba e sócio do selo QTV, compartilha dessa visão crítica, porém voltada para o Rio de Janeiro. Ele classifica como “escrotidão” e “apropriação” a presença de blocos que tocam Beatles, Mario Bros ou rock, ignorando a essência do samba. Para Bernardo, a essência do Carnaval está na ancestralidade das orquestras de percussão criadas pelas populações negras para marcar o tempo e ocupar o espaço. Substituir isso por caixas de som tocando pop é perder o sentido. “A cultura negra está sendo subjugada aos desejos de uma elite branca”, critica.
Bernardo também aponta a hipocrisia na Sapucaí. Ele lembra que o desfile, muitas vezes romantizado, reflete a “guerra social e a manutenção de privilégios”. Famílias de contraventores, brancas e ricas, dominam a festa há décadas, sendo esteticamente sustentadas pelo trabalho do sambista negro da bateria. Ele cita nomes como Gabriel David, herdeiro da Beija-Flor, que transita entre o poder oficial e a tradição da contravenção, exemplificando como a festa é gerenciada.
No entanto, há visões que buscam negociar com essa confusão identitária. Rachel Valença, embora seja purista em relação às baterias das escolas de samba — onde considera a introdução de ritmos estrangeiros uma afronta —, é mais tolerante com os blocos de rua. Ela observa o surgimento dos blocos de Jesus: comunidades evangélicas que, mesmo condenando teoricamente a festa, sentem a necessidade humana de participar e criam seus próprios desfiles. “Se são contra o Carnaval, por que louvar logo no Carnaval?”, questiona, vendo nisso a prova de que o impulso da festa é irresistível.
Em São Paulo, essa mistura resulta naquilo que Guilherme Varella chama de “desidentidade”. Diferentemente de Recife ou Salvador, que possuem tradições fortes, São Paulo absorve tudo: desde blocos LGBTQIA+ de música eletrônica até desfiles tradicionais, passando por blocos que tocam Fábio Jr. “É uma identidade meio amorfa”, define Varella, sugerindo que essa falta de definição é, paradoxalmente, o retrato da cidade.
Economia da desigualdade
Talvez a resposta mais contundente sobre o Brasil de 2026 venha da economia da festividade. O Carnaval atua como uma “lupa da desigualdade social”, uma “afirmação exagerada da realidade”, conforme menciona Varella, citando a socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz.
Alessandra Leão relata a humilhação diária imposta à cultura popular em Pernambuco. Enquanto os grandes palcos recebem verbas vultosas e artistas populares, as agremiações tradicionais são tratadas com descaso. Ela compartilha a história de um mestre de maracatu que, ao entrar em um camarim, se surpreendeu ao ver frutas e água, pois estava acostumado a receber apenas “meio pão” como alimentação para seu grupo. “A cultura popular continua sendo subvalorizada e desrespeitada. Para um maracatu sair às ruas, nessa lógica, é um desafio”, lamenta.
Isabel Guillen destaca uma consequência prejudicial dessa espetacularização em Recife: o “Carnaval de palco” está sufocando o “Carnaval de rua”. Os jovens das periferias, seduzidos pela fama instantânea dos shows no Marco Zero, deixam de desfilar nas agremiações tradicionais, que demandam comprometimento e esforço ao longo do ano. “Isso está minando as agremiações”, alerta a historiadora.
O contraste é evidente ao olharmos para Salvador. Edivaldo Bolagi, produtor cultural, descreve a Bahia como um “caldeirão de contradições antropofágicas”. Ele descreve a opulência exagerada dos camarotes, mencionando o episódio de um xeque árabe que chegou de jato, cercado por dezenas de mulheres e seguranças, e tentou “privatizar” um trecho da via pública com um cheque em branco para o dono do camarote. “É a megalomania, a grandiosidade”, comenta.
Bolagi também expõe a complexidade racial e social da festa baiana por meio do fenômeno do cantor O Kannalha. Suas letras sexualmente explícitas são cantadas com entusiasmo pela elite branca nos camarotes de R$ 4 mil, em uma validação social que ignora a ambiguidade, enquanto essa mesma elite paga caro para assistir uma baiana cantar sobre a favela, desde que esteja protegida atrás das grades do VIP. Ao mesmo tempo, ele destaca que o Nordeste de Amaralina, uma comunidade periférica estigmatizada pela violência policial, realiza o maior Carnaval de bairro da cidade com zero índice de violência, demonstrando que o perigo muitas vezes está onde a discriminação não aponta.
Ética do encontro
Frente a essa apropriação, risco e desigualdade, o que resta? Resta a ética do encontro e o respeito ao sagrado da festa. Alessandra Leão oferece uma lição prática que serve como metáfora para o Brasil de 2026: “Não se atravessa a orquestra no meio”.
Em Pernambuco, existe um código de conduta tácito, porém rigoroso. Se um maracatu está desfilando, não se atravessa o cortejo. Se duas agremiações se encontram, a mais recente pede passagem e abaixa o estandarte para a mais antiga. “São códigos de convivência e de hierarquia histórica”, explica Alessandra. Ela relata ter presenciado uma mãe repreendendo severamente a filha que tentou atravessar um maracatu: “Você não tem o direito de fazer isso”. Em um país onde o espaço público é tratado como terra de ninguém ou propriedade privada, essa etiqueta carnavalesca é uma lição de civilidade.
Salloma Salomão lembra que, apesar de tudo, o Carnaval é um “resquício de ritos africanos e práticas festivas indígenas” que sobreviveu à catequese e ao mercado. Ele destaca a importância de grupos como o Ilú Obá De Min, formado por mulheres que tocam tambor desafiando a dominação masculina, como exemplos de que a festa ainda abriga núcleos de transformação genuína.
Reflexo fragmentado
Participar do Carnaval em 2026 não é um ato de alienação. É habitar a potência do turbilhão. A festa não nega a realidade brasileira; ela a intensifica. Se o país é racista, o Carnaval escancara o racismo na seleção do repertório e na distribuição dos blocos. Se o país é desigual, a festa ergue barreiras de camarotes que separam quem desfruta de caviar de quem se contenta com “meio pão”.
Contudo, é também nessa brecha dessa engrenagem impiedosa que a vida pulsa com mais vigor. Seja na mão sangrando do ritmista no Rio, na gola bordada em Nazaré da Mata, ou na persistência de um bloco pequeno em ocupar as ruas de São